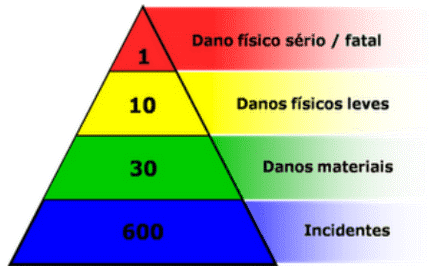A
IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NOS CANTEIROS DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL:
UM
ESTUDO DE CASO EM UMA OBRA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA
A construção civil é responsável por inúmeros
acidentes no ambiente laboral, em função da exposição dos funcionários a
múltiplos fatores de risco, que podem ocasionar lesões leves, incapacitações ou
até a morte de um profissional ou mesmo de um número elevado de pessoas em
larga escala. Diante deste contexto, esta pesquisa tem como principal
questionamento: a transferência de informações acerca dos métodos preventivos
dos acidentes de trabalho é capaz de proporcionar uma redução do número de
ocorrências em um canteiro de obras? Trata-se de uma pesquisa
quanti-qualitativa, de natureza aplicada, quanto aos objetivos, exploratória e
descritiva e, quanto aos procedimentos, realizou-se um estudo de caso, com a
aplicação de um checklist baseado na NR-18, com o objetivo de analisar e
descrever a importância da aplicação e implantação da segurança do trabalho e
prevenção dos acidentes de trabalho em um canteiro de obras no município de
Vitória da Conquista- BA. Depreendem-se por meio deste estudo que a obra em
questão não segue todas as exigências previstas, sendo elas: inexistência de
sinalizações; sanitário e vestiário improvisado; local para as refeições
inadequado e ausência de um profissional com especialização em segurança do
trabalho. Todas estas questões são de fácil correção, portanto, verifica-se que
a falta de instrução ainda é uma realidade na Construção Civil, principalmente
no que tange a segurança dos envolvidos. Para tanto, verifica-se o quanto é
imperativo haver a realização de capacitações, bem como a concretização de
fiscalizações e a inserção de um profissional especializado em segurança do
ambiente de trabalho.
Palavras-chave: Segurança do Trabalho, canteiros de obra, acidentes, construção civil.
Ao longo dos anos no Brasil, vários trabalhadores
sofreram acidentes no desenvolvimento de seu trabalho. Estes acidentes, aliás,
podem ocasionar lesões leves, incapacitações ou até a morte de um profissional
ou mesmo de um número elevado de pessoas (SILVA
et al., 2002).
Em 2016, conforme informações do Anuário Estatístico
de Acidentes do Trabalho (AEAT), no Brasil, ocorreram cerca de 578.935
acidentes do trabalho, onde 34.786 destes estão relacionados com a indústria da
Construção Civil (SAMPAIO, 1998).
É de fundamental importância haver a instalação dos
sistemas de gerenciamento de obras visando reduzir os riscos de acidentes do
trabalho, sendo que a organização e/ou a distribuição de materiais, ferramentas
e utensílios podem ajudar consideravelmente na apresentação de resultados
positivos no campo organizacional, que atingem diretamente o setor da segurança
em obra.
Podemos definir a Segurança do Trabalho como a ciência
que, através de técnicas e métodos adequados, investiga prováveis razões ou motivos
de acidentes do trabalho, com o intuito de prevenir sua ocorrência, na qual a
função é ajudar o empregador, no cuidado à integridade física e mental dos
trabalhadores e no bom andamento do processo produtivo (PAULA JÚNIOR et al., 2016).
A segurança e a saúde do trabalho na área da
Construção Civil fundamentam-se, principalmente, em normas regulamentadoras,
sendo a mais importante para as práticas em canteiros de obras a NR-18
(Condições de Segurança e Saúde no Trabalho da Indústria da Construção), que
tem como finalidade o estabelecimento de diretrizes que objetivam a programação
de medidas de prevenção e controle de segurança no meio ambiente e as condições
de trabalho na Construção Civil (SILVA
et al., 2002).
Diante disso, há uma preocupação crescente com a
implantação da segurança no ambiente laboral dos operários nos canteiros de
obras, visando verificar as condições de trabalho sob o ponto de vista da
segurança do trabalho, de modo que seja possível haver o direcionamento e a
condução das normas vigentes, atendendo assim as exigências essenciais da
segurança nos canteiros de obras da Construção Civil.
Diante
da importância deste assunto, esta pesquisa tem como questionamento:
a transferência de informações acerca dos métodos preventivos dos acidentes de
trabalho é capaz de proporcionar uma redução do número de ocorrências em um
canteiro de obras?
O objetivo geral deste trabalho é analisar e descrever
a importância da aplicação e implantação da segurança do trabalho e prevenção
dos acidentes de trabalho em um canteiro de obras no município de Vitória da
Conquista – BA. Os objetivos específicos são: compreender as normas
regulamentadoras mais importantes que orientam sobre o atendimento dos
requisitos básicos de segurança do trabalho para os profissionais nos canteiros
de obras da área da Construção Civil; Avaliar as medidas de proteção e
prevenção de acidentes, como um processo de educação dos indivíduos, que evitem
ações e situações de risco aos trabalhadores neste tipo de ambiente laboral e,
por fim, gerar mais segurança aos trabalhadores que atuam nos canteiros de
obras da construção civil, aplicando técnicas de execução para reduzir ao
máximo possível os riscos de acidentes e doenças, buscando a prevenção dos
acidentes de trabalho.
A principal finalidade no desenvolvimento deste estudo
é a disseminação de informações mais precisas a respeito deste tema,
principalmente porque ainda há uma visível desvalorização no campo acadêmico,
que pode ser comprovada pelo pequeno número de publicações na área. Outro
intento também é a inserção deste assunto nas pautas dos profissionais
responsáveis pela Construção Civil, de modo que seja possível, não só inserirem
os meios de proteção adequados, como também proporcionarem a diminuição dos
acidentes, que vem ocorrendo em larga escala em toda sua conjuntura.
FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA
HISTÓRICO
DA SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Desde a pré-história, o homem sempre esteve sujeito a
perigos que integravam parte de sua luta pela existência. E, devido a condições
e atos inseguros, muitos acidentes poderiam e podem estar acontecendo com os
seres humanos, principalmente no seu ambiente de trabalho (MOTERLE, 2014).
Os escravos tinham que trabalhar até 18 horas por dia
no Brasil Colonial e, como forma de aumentar a produção destes, os
proprietários utilizavam de castigos, que iam desde a surras ou até a morte. A
principal finalidade neste ato era assegurar um excelente rendimento ou mesmo a
subordinação ao trabalho. No século XVIII, este contexto transformava o trabalho
escravo praticamente irrelevante, uma vez que, a longevidade de um escravo
jovem era somente aproximadamente doze anos. No século XIX, com as restrições
impostas ao tráfico de escravos, os proprietários demonstraram certa
preocupação com a saúde destes indivíduos, buscando garantir um tempo maior de
espoliação da força de trabalho de suas “propriedades” (OLIVEIRA, 2012).
Com a Revolução Industrial, foram inventadas máquinas
para acompanhar a expansão da industrialização, trazendo então, novos riscos.
Assim, leis trabalhistas e estudos na área de segurança ao trabalhador têm
passado por constantes evoluções, dado que a proteção ao labutador tem
ocasionado muitas preocupações nos países industrializados (MOTERLE, 2014).
A Construção Civil é uma das áreas mais antigas do
mundo, trazendo consigo diversos riscos de acidentes e doenças ocupacionais.
Diante disso, a legislação vem buscando alternativas capazes de proporcionar
uma mudança dos modos de produção, principalmente no que tange a segurança dos
indivíduos no seu ambiente de trabalho (MOTERLE,
2014).
No Brasil, um levantamento da Previdência Social
indica que a Construção Civil é a segunda área com uma grande quantidade de
mortes em acidentes do trabalho, perdendo somente para o Transporte Rodoviário de
Carga. Em 2011, foram apontados 177 óbitos nos canteiros de obras de todo o
Brasil, sendo que, quase 30 % a mais do que o apontado no ano que antecede. O
total de mortos correspondia a 124 em 2010, um pouco mais de 40% menos do que o
verificado após dois anos (SAMPAIO, 1998).
Perante tal realidade, diversos estudos realizados têm
demonstrado que a inserção de programas e sistemas de Gerenciamento da
Segurança e Saúde no Trabalho - SST, bem como a implementação de treinamentos e
capacitações são alternativas capazes de alterar drasticamente esta
perspectiva. É importante salientar que estes treinamentos devem envolver a
utilização e manuseio de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s nas atividades laborais (SAMPAIO, 1998).
Segundo Brasil (2017), os equipamentos de proteção
individual (EPI’s) são os instrumentos para serem utilizados de forma
individual visando à proteção da saúde dos colaboradores, enquanto os de
Proteção Coletiva (EPC’s) são recursos usados para a proteção de todos os
trabalhadores na obra, ou seja, são todas as condutas e/ou normas de segurança
aplicadas na obra para proteger ou auxiliar um ou mais indivíduos.
A Segurança do Trabalho pode ser determinada como a
ciência que, por meio de metodologias e técnicas apropriadas, analisa as
prováveis causas de acidentes do trabalho, visando prevenir sua ocorrência, ou
seja, auxiliar o empregador no devido cuidado à integridade física e mental dos
trabalhadores no prosseguimento do desenvolvimento produtivo (PAULA JÚNIOR et al., 2016).
De acordo com os autores supracitados, a segurança e o
bem-estar são condições que devem ser asseguradas pelo empregador em toda sua
conjuntura, sendo esta uma determinação da Organização Internacional do
Trabalho. Em outras palavras, este indivíduo deve manifestar forte empenho com
as ações que tem relação com a Saúde e Segurança do Trabalho – SST, tal como
assegurar um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho.
No Brasil, a segurança no trabalho é estabelecida pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que consentiu a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e as Normas Regulamentadoras (NR’s) (BRASIL, 2017).
NORMAS
REGULAMENTADORAS
A Lei 6.514/1977 foi regularizada pelo Ministério do
Trabalho em 1978, com a publicação da Portaria 3.214, que acatou as Normas
Regulamentadoras (NR’s), as quais são destinadas a Segurança e Medicina no
Trabalho, fisicamente admitidas pela Constituição Federal, publicada em 1988 (SAAD, 2015).
Além de satisfazer as funções regulamentares
apresentadas na CLT, a publicação das NR’s também concretiza um direito
primordial inscrito no art. 7.º, XXII, da nossa Carta Magna, que assegura a
redução dos riscos específicos do trabalho, através de normas de segurança,
saúde e higiene (AMORIM JUNIOR, 2011).
Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), uma
norma regulamentadora é elaborada por meio da inserção das responsabilidades
trabalhistas, que precisam ser cumpridas por todo contratante. Elas estabelecem
especificações mínimas e as orientações acerca da saúde e segurança, de acordo
com cada trabalho ou cargo a ser assumido (BRASIL,
2017).
Na década de 90, algumas Normas Regulamentadoras foram
revistas, considerando nova filosofia de demanda de gerenciamento da segurança
e saúde ocupacional, principalmente as NR-7, NR-9 e NR-18 (BRASIL, 2017).
A NR-7 ou PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional) é uma norma regulamentadora que determina as diretrizes e as
condições para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO nas instituições, visando à proteção e preservação da saúde
de seus colaboradores, no que tange os riscos ocupacionais, de acordo com
avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco – PGR da instituição
(AMORIM JUNIOR, 2011).
A NR 9 ou PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) é uma outra norma regulamentadora que apresenta a obrigatoriedade
da criação e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
nas empresas ou instituições que promovam a contratação de empregados. De
antemão, ela busca a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, por
meio do adiantamento, reconhecimento, análise e controle da existência de
riscos ambientais no ambiente laboral, considerando a proteção dos recursos
naturais e do meio ambiente (AMORIM
JUNIOR, 2011).
A NR 18, que trata das Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção, criou diretrizes administrativas, de
organização e de planejamento, com a finalidade de programar medidas de
controle e sistemas preventivos de segurança no ambiente da Construção Civil. A
NR-18 foi alterada e amplificada em 1983, e, com a revisão de 1995, tornou-se
obrigatório à criação de um Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção – PCMAT pelas empresas, de forma que houvesse o
gerenciamento permanente do ambiente de trabalho e do processo produtivo. Neste
documento também há instruções direcionadas aos trabalhadores, com o escopo de
proporcionar a prevenção de acidentes ou mesmo o surgimento de doenças
ocupacionais (NASCIMENTO et al., 2009).
MEDIDAS
PROTETIVAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Em relação à segurança no trabalho, não há como não
mencionar à prevenção dos acidentes de trabalho, visto que estes são impedidos
através do emprego de normas de segurança, nas quais deve ser selecionada de
acordo a ocupação do trabalhador (SANTOS,
2014).
A NR-06 refere-se aos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI. Nela é possível verificar também as situações segundo as
quais esses EPI’s serão fornecidos pelas empresas, bem como as obrigações dos
empregados, empregadores, fabricante nacional, importador e as atribuições do
Ministério do Trabalho e Emprego. Também dispõe sobre o Certificado de
Aprovação (CA) que todos os EPI’s precisarão possuir, como uma das exigências
para serem comercializados ou usados. Além do conceito de EPI, a norma também
apresenta o conceito de Equipamento Conjugado de Proteção Individual - ECPI (BRASIL, 2017).
Santos
(2014) informa em suas análises que a NR-06 contém as prioridades referentes à
prevenção de acidentes, sendo elas:
1) Eliminação do risco:
compreende a eliminação definitiva dos riscos. Então, se, por exemplo, uma
escada tem piso escorregadio, este deve ser substituído por piso antiderrapante
e emborrachado;
2) Neutralização do
risco: o risco existe, mas deve ser controlado. Esta opção é utilizada na
impossibilidade temporária ou definitiva da extinção de um risco. Ex.: partes
móveis de uma máquina, como engrenagens, correias polias e etc, que devem ser
neutralizadas, através de um anteparo protetor, já que não podem ser
eliminadas;
3) Sinalização do risco:
na impossibilidade de eliminar ou isolar o risco de acidentes deve-se
considerar as medidas de advertência como, por exemplo, os sinalizadores;
4) Proteção coletiva e
proteção individual: os meios de proteção coletiva serão definidos conforme as
exigências das leis de Segurança e Medicina do Trabalho, por meio da utilização
de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção
Coletiva).
A
respeito dos EPC’s - Equipamentos de Proteção Coletiva, Santos (2014) destaca
em suas análises que:
1) Sistema de exaustão:
visa eliminar gases, vapores ou poeiras contaminantes;
2) Enclausuramento:
alternativa capaz de diminuir ou eliminar o barulho excessivo;
3) Comando bimanual: no
decorrer do ciclo de uma máquina, deve-se manter as mãos fora da zona de
perigo;
4) Cabo de segurança:
contenções de equipamentos suspensos sujeitos a esforços.
Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
Santos (2014), lembra que, embora sejam destinados a proteger a integridade
física e a saúde do trabalhador, estes não evitam acidentes como acontece com a
proteção coletiva - EPC ou seja, eles apenas podem reduzir e/ou evitar lesões
que podem decorrer dos acidentes nos ambientes laborais.
GERENCIAMENTO
DOS RISCOS
É imprescindível haver a prevenção dos acidentes de
trabalho, visando o alcance do rendimento, a eficiência e a excelência do
trabalho na Construção Civil. Assim, um dos instrumentos primordiais para que
isso ocorra é a NR 18 e o Programa de Gerenciamento de Risco - PGR, que são
documentos compostos por um conjunto de ações e procedimentos básicos, que
serão implantados nesta área de abrangência, buscando assim o gerenciamento e a
prevenção dos riscos e acidentes no canteiro de obras (SAMPAIO, 1998).
Para o autor supracitado, a citada norma refere-se às “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção”. Em outras palavras, este é um documento que
regulamenta e define as condições de trabalho na construção civil. Ele também
retrata, por exemplo, o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, as
áreas de vivência, as instalações elétricas, as medidas de proteção contra
quedas, os cuidados para a movimentação, transporte de materiais e pessoas com
o uso de elevadores, dentre outros.
De
acordo com Brasil (2017), os objetivos principais desta norma são:
· Garantia
de que sejam asseguradas a saúde e integridade física dos trabalhadores da
Construção Civil;
· Adoção
de técnicas adequadas de execução das atividades laborais, visando assim à
redução dos riscos de acidentes e do aparecimento de patologias;
· Descrição
das medidas de proteção e prevenção capazes de evitar situações de risco no
âmbito da Construção Civil;
· Determinação
dos encargos e das responsabilidades dos gestores da obra;
· Criação
e operacionalização de instrumentos e dispositivos capazes de prevenir os
riscos derivados do processo de construção.
O PGR propõe ações de prevenção ou melhorias que devem
ser implantadas, monitoradas e documentadas pela organização, portanto,
precisam ser elaboradas por um profissional legalmente habilitado em segurança
do trabalho, isto é, por um Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho. É
imperativo que as frentes de trabalho participem tanto da elaboração, como da
implementação do PGR. Além disso, o documento deve ter vigência do início ao
fim da obra, abordando todas as fases do processo (SILVA et al., 2002).
É importante salientar que, quando realizado antes do
início da obra, este documento deve ser atualizado sempre que houver mudanças
referentes aos planos iniciais. É necessária também a existência de um controle
documental e a disponibilização deste aos funcionários. A execução do plano de
trabalho apresentado no PGR é primordial para a redução dos níveis de exposição
aos riscos ocupacionais inerentes às atividades ou tarefas realizadas nas obras
da construção civil (BRASIL, 2017).
IMPACTO
DOS ACIDENTES DE TRABALHO NA PRODUTIVIDADE DA EMPRESA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Barbosa Filho (2011) informa em suas análises acerca
da importância da sinalização como uma medida preventiva, na qual é capaz de
proporcionar as direções a serem adotadas em caso de perigo ou mesmo como agir
em casos de acidentes. Além destes, torna-se primordial a constituição da CIPA,
a Análise Preliminar de Riscos - APR, o Diálogo Diário de Segurança (DDS), a
criação e afixação do mapa de risco por etapa e a comunicação dos progressos
alcançados em toda sua extensão, como mecanismo capaz de reduzir os riscos em
larga escala.
Um acidente de trabalho pode ocasionar diversos
malefícios, tanto para a empresa quanto para o consumidor, sendo os mais
comuns: o afastamento do profissional, perda de tempo, horas extras,
treinamento de outro operário, redução ou interrupção da produção, dentre
outros. Todos estes aspectos, associados ou não, promovem a necessidade de
haver um realinhamento de preços e, como consequência, um prejuízo para o
consumidor final. Todavia, a integridade do ser humano é o que mais importa,
visto que o valor da vida, não há indenização que resgate (OLIVEIRA, 2012).
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa
quanti-qualitativa. Segundo Minayo (2003), a pesquisa quantitativa tem como
intuito a obtenção de dados numéricos, visando assim entender, entre outros, as
preferências e condutas de determinados indivíduos ou grupos. Já a pesquisa
qualitativa busca compreender certos fenômenos comportamentais por meio da
coleta de dados narrativos, de modo que seja permitido o estudo das preferências
pessoais.
Em relação à natureza, esta análise é aplicada, que,
de acordo com Gil (2002), tem o desígnio de gerar conhecimento para
aproveitamento objetivo e imediato, de forma que seja possível a resolução de
problemas específicos envolvendo os interesses sociais, territoriais e
regionais.
No que concerne os objetivos, foi adotado o modelo de
pesquisa exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória irá proporcionar
uma maior familiaridade com o problema, de modo que seja possível haver o aprimoramento
das ideias ou mesmo a descoberta de intuições, enquanto o estudo descritivo irá
expor os atributos de um determinado grupo ou fenômeno (GIL, 2002).
No que se refere aos procedimentos, realizou-se um
estudo de caso. Segundo Gil (2002) este método tem como característica um
estudo intensivo, onde o objetivo principal é a compreensão do assunto
abordado. A função primordial é a explicação sistemática de fatos que acontecem
no contexto social, que geralmente são relacionados com outras variáveis.
Para descrever o que ocorreu no canteiro de obras, no
que tange as condutas de segurança, foi aplicado um checklist baseado na NR-18.
Após a obtenção dos dados, estes foram avaliados e analisados conforme a
execução das questões relacionadas à segurança do trabalho no canteiro de
obras. Para Rocha, Saurin e Formoso (2000), o checklist é primordial, pois com
ele é possível “identificar os pontos de risco e a frequência com que eles
aparecem”.
As intervenções tiveram embasamento nas referências
bibliográficas disponíveis, tais como artigos, livros, dissertações e teses de
assuntos relacionados ao tema, e também consultas a legislação vigente. É
válido ressaltar que foram retiradas algumas fotos da obra, em diferentes
contextos, e das medidas de segurança adotadas pela equipe, na qual foram
expostas no decorrer da análise dos resultados, buscando assim o entendimento
por parte do leitor.
ANÁLISES
DOS RESULTADOS
A construção em estudo encontra-se situada na cidade
de Vitória da Conquista – BA, onde iniciou-se em julho do presente ano, isto é,
2021, com prazo para finalização em março de 2022. Trata-se de um edifício
residencial de (6) seis casas com dois (2) pavimentos (Figura 01).
Na época de realização do presente estudo, foram
encontrados em campo 12 (doze) funcionários devidamente contratados, sendo
todos maiores de idade e com experiência de, no mínimo, um ano na área da
Construção Civil. De acordo com o checklist realizado, esta obra teve início
sem o acompanhamento do profissional especialista em Segurança do Trabalho.
Também se verificou a apresentação de poucas e inadequadas medidas de segurança
aos trabalhadores no local, segundo as normas de segurança vigentes.
Figura 01: Obra em estudo (edifício residencial de seis casas com dois pavimentos).
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
De acordo Brasil (2017), existe uma obrigatoriedade
quanto à elaboração e a implementação do PGR (Programa de Gerenciamento de
Riscos) nos canteiros de obras da Construção Civil, que contenham os riscos
ocupacionais e as medidas de prevenção, segundo a NR 18.
O PGR deve conter as exigências previstas na NR-01, de
forma que sejam abrangidos os seguintes documentos: o projeto da área de
vivência na obra; o projeto elétrico das instalações; os projetos dos sistemas
de Proteção Coletiva; os projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra
Quedas - SPIQ, quando aplicável e, por fim, a relação dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPI e as especificações técnicas correspondentes,
conforme os riscos ocupacionais, desenvolvido por profissional legalmente
habilitado (SAMPAIO, 1998).
No caso do canteiro em estudo, não foi constatado a
presença do PGR. É importante salientar que, nos canteiros de obras da
Construção Civil com até sete metros de altura e, no máximo, dez trabalhadores,
o PGR pode ser elaborado por um profissional qualificado em Segurança do
Trabalho e executado pela organização. Além disso, ressalta-se a imperatividade
quanto a sua presença e disponibilização a quem se interessar (BRASIL, 2017).
Nesta edificação não existe instalação sanitária. Para
ter acesso a uma, o profissional precisa se deslocar até um abrigo mais
próximo, que fica há aproximadamente 150 metros, que é altamente inadequado
para uso, pois não consta a presença de um lavatório, bacia sanitária sifonada,
com tampo, assento e mictório, proporcional a um conjunto para cada grupo de
vinte trabalhadores ou fração, e de chuveiro, proporcional a uma unidade para
cada grupo de dez trabalhadores ou fração (Figura 02) (SAMPAIO, 1998).
Figura 02: Instalação sanitária da obra e lavatório improvisado com uma mangueira.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
Neste canteiro de obras existe o fornecimento de água
fresca, potável e filtrada para os trabalhadores nas frentes de trabalho e nos
alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, sendo
vedado o uso de copos coletivos. Além disso, há um vestiário improvisado, bem
como um local inadequado para a concretização das refeições diárias, sem nenhum
tipo de higiene ou conforto (Figura 03). Diante disso, verifica-se que as
instalações da área de vivência não atendem ao estabelecido na NR-24 (Condições
Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho) (POZZOBON, 2016).
Figura
03: Local improvisado para refeição e vestiário dos trabalhadores.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
As instalações elétricas temporárias e definitivas
atendem ao disposto na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade) (SILVA et al., 2002).
Estas são executadas e mantidas conforme projeto elétrico, que foi elaborado
por um profissional legalmente habilitado, sendo que as instalações elétricas
são realizadas por trabalhadores autorizados.
Quanto aos condutores elétricos, verifica-se que: são
dispostos de maneira a não obstruir a passagem de materiais e pessoas; possuem
isolação dupla ou reforçada quando destinados à alimentação de máquinas e
equipamentos elétricos, sendo estes móveis ou portáteis; e as conexões, emendas
e derivações de tais condutores possuem resistência mecânica, condutividade e
isolação compatíveis com as condições de utilização. Há utilização do dispositivo
Diferencial Residual - DR, como medida de segurança adicional nas instalações
elétricas e nas situações previstas nas normas técnicas nacionais vigentes (SILVA et al., 2002).
As instalações elétricas da obra não possuem sistema
de aterramento elétrico de proteção. Além disso, não estão sujeitas as medições
e inspeções elétricas regulares, com a emissão de laudos por um profissional
legalmente habilitado, conforme o projeto das instalações elétricas temporárias
e as normas técnicas em vigor.
Quanto às peças que conduzem as instalações,
equipamentos, máquinas e ferramentas elétricas que não pertencem ao circuito
elétrico, pode-se verificar que todas permanecem energizadas caso haja falhas
da isolação, estando assim conectadas ao sistema de aterramento elétrico
protetor. Nas montagens metálicas, onde é possível haver o acúmulo de energia
estática, foi realizado o aterramento da estrutura desde o início da montagem.
Quanto
às etapas da obra, verificou-se que: o serviço de fundação,
escavação e desmonte de rochas são realizados, bem como supervisionados de
acordo com o projeto, que foi confeccionado por profissional habilitado; a
escavação com profundezas maiores que a um metro e vinte e cinco centímetros é
iniciada por meio de uma liberação específica, obedecendo ao disposto nas
normas técnicas nacionais em vigor; o projeto das escavações leva em conta os
riscos a que estão expostos os trabalhadores; e, próximo à escavação, quando há
a existência de tubulações, medidas preventivas são providenciadas, visando à
eliminação de possíveis acidentes (Figura 04).
É válido ressaltar que, onde são realizadas as
fundações, as escavações e o desmonte das rochas, não foi verificada a presença
de barreiras de isolamento nas proximidades e nem de sinalizações de
advertência, principalmente noturna, de modo que haja um impedimento quanto à
entrada de veículos e/ou pessoas não autorizadas.
Os locais de trabalho dos serviços de carpintaria e
onde se concretizam o corte, a dobra e a armação de vergalhões de aço tem a
remoção e a coleta diária dos resíduos das atividades. Além disso, as armações
de pilares, as vigas e as demais estruturas são apoiadas e escoradas de modo a
impedir o tombamento e/ou desmoronamento destas.
Figura 04: Organização das áreas de trabalho dos serviços na obra.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
As áreas de trabalho dos serviços de carpintaria, onde
são executadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço
não contém: piso nivelado, resistente e antiderrapante; cobertura apropriada
capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais; e a
inexistência de lâmpadas para iluminação, protegidas contra impactos
provenientes da projeção de partículas.
Quanto à estrutura de concreto, foi verificado que o
projeto das fôrmas e dos escoramentos, indicando a sequência de retirada das
escoras, foi elaborado por um profissional legalmente habilitado. Também se
observou que o trabalho de concretagem é supervisionado por profissional
capacitado para tal, sendo, inclusive, observados os seguintes quesitos:
inspeção dos equipamentos e dos sistemas de alimentação de energia antes e
durante a execução dos serviços; inspeção das máquinas e peças do sistema
transportador de concreto antes e durante a realização dos serviços; e inspeção
do escoramento e da resistência das fôrmas antes e durante o cumprimento das atividades.
Porém, na montagem das fôrmas e na desforma, não houve o devido isolamento e
sinalização da área no entorno da atividade, além de não serem previstas as
medidas de prevenção que impeçam a queda livre das peças.
Na etapa de impermeabilização, os processos de
aquecimento, transporte e aplicação de impermeabilizante em edificações não
atendem às normas técnicas nacionais vigentes.
Nas atividades em telhados e coberturas que ultrapasse
dois metros de altura com risco de queda, é aplicado o que dispõe na NR-35 (BRASIL, 2017).
Existe a presença de escada ou rampa instalada para
transposição de pisos com diferença de nível superior a quarenta centímetros
como meio de deslocamento de trabalhadores. A escada fixa vertical suporta os
esforços solicitantes, bem como possuem largura entre quarenta e sessenta
centímetros, com altura máxima de dez metros, se for de um lance único (Figura
05).
Figura
05: Escada fixa vertical
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
As escadas portáteis foram selecionadas conforme a
carga projetada, de maneira a suportar o peso empregado durante a realização da
tarefa. Além disso, foram levados em consideração os esforços quanto à
utilização dos sistemas de proteção contra quedas. Ao se falar a respeito das situações
de resgate, estas possuem espaçamento uniforme entre os degraus, que vai de
0,25 cm (vinte e cinco centímetros) a 0,3 cm (trinta centímetros); são apoiadas
em piso resistente; são fixadas em seus apoios ou possuem dispositivo que
impeça seu escorregamento; e é utilizada uma pessoa por vez, exceto quando for
definido pelo fabricante o uso simultâneo (Figura 06).
A escada portátil de uso individual (de mão) possui,
no máximo, 7 m (sete metros) de extensão, com degraus fixados aos montantes,
garantindo assim a sua rigidez. Seu uso é restrito para serviços de pequeno
porte, com acesso temporário.
Figura 06: Escada portátil
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
Nas medidas de prevenção contra queda de altura, não
foi verificado a presença de instalações de proteções coletivas, havendo assim
o risco de queda dos profissionais ou da projeção de objetos e/ou materiais nos
entornos da obra.
As máquinas e os equipamentos não atendem ao disposto
na NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) (SILVA et al., 2002).
Os trabalhadores são capacitados e instruídos quanto
ao uso das ferramentas, seguindo as recomendações de segurança da NR-12 e,
quando aplicável, do manual do fabricante. Para a utilização das ferramentas,
são evitadas o uso de roupas soltas ou mesmo de acessórios que coloque em risco
a segurança do trabalhador. As ferramentas são vistoriadas antes da sua
utilização (BRASIL, 2017).
O condutor de alimentação da ferramenta elétrica é
manuseado de forma que não sofra torção, desgaste ou quebra, nem atrapalhe o
deslocamento de trabalhadores e/ou equipamentos. Os dispositivos de proteção
removíveis da ferramenta elétrica são deslocados para sua manutenção, sendo
posteriormente recolocados. A ferramenta elétrica usada para cortes é equipada
com disco específico para o tipo de material a ser cortado (Figura 07).
Figura 07: Ferramenta elétrica com disco específico para o tipo de material a ser cortado.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
O empregador fornece gratuitamente aos trabalhadores
as ferramentas manuais, que são indispensáveis para o desenvolvimento das
atividades diárias. Estas não são deixadas em locais inadequados, sendo, após o
uso, guardadas imediatamente. Quando existe a necessidade de instalações
elétricas para o seu funcionamento, são empregadas aquelas que sejam isoladas,
de acordo com a tensão recomendada, ficando exposta somente a parte que terá
contato direto com a instalação.
Quanto ao andaime, que no caso é apoiado em sapatas,
verificou-se que estas possuem bases firmes, niveladas e resistentes aos
esforços e às cargas, permitindo inclusive a realização de ajustes. Também se
empregam andaimes fixados a estrutura da construção ou edificação, através de
amarração, resistindo assim aos esforços submetidos.
A entrada no andaime apoiado, em que o piso de
trabalho esteja posicionado a mais de um metro de altura, é realizada por meio
de escadas, sendo este a de uso coletivo, na qual é incorporada interna ou
externamente ao andaime, com largura mínima de sessenta centímetros, com
degraus antiderrapantes e com corrimão (Figura 08).
Figura 08: Andaime apoiado.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
Não há no canteiro de obras sinalizações que promovam:
a determinação de locais de apoio; saídas de emergência; presença de riscos
existentes; uso obrigatório de EPI; isolamento das áreas de movimentação e
transporte de materiais; e quanto ao acesso e circulação de equipamentos ou
veículos (Figura 09).
Barbosa Filho (2011) descreve a importância da
sinalização, como meio de instrução acerca da presença de perigo nas imediações
ou mesmo quanto à prestação de orientações em caso de acidentes, que precisem
de direcionamentos mais precisos, tanto para os trabalhadores, quanto para a
equipe de saúde que venha prestar socorro.
Não é obrigatório o uso de roupa de alta visibilidade,
coletes ou outros meios nesta obra, seja nas costas ou no tórax, caso o
profissional esteja em serviço em locais em que haja o movimento de cargas ou
mesmo de veículos.
Figura 09: Ausência de placas de sinalização obrigatórias no canteiro de obras.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
Os materiais são organizados e armazenados de maneira
que não haja o bloqueio ou circulação de pessoas ou de materiais, evitando a
todo modo à ocorrência de acidentes. É válido informar que, durante a
realização da pesquisa, o canteiro de obras encontrou-se limpo, organizado e
desimpedido nas vias de passagens, circulação e escadarias (Figura 10).
A madeira usada para construção das escadas, rampas,
passarelas e sistemas de proteção coletiva é de alto padrão, sem danos e
defeitos capazes de comprometer a resistência desta. Para garantir a sua
durabilidade, evita-se o seu contato com água ou mesmo o uso de pintura (Figura
10).
Figura 10: Armazenamento e organização dos materiais e uso de madeiras de boa qualidade na obra.
Fonte:
pesquisa de campo realizada pelo pesquisador em 2021.
De modo geral, a obra analisada apresenta pontos de deficiência,
com base na NR-18, e, como consequência os trabalhadores se encontram em risco
no que tange a acidentes no local de trabalho. A solução seria a inserção das
exigências presentes nas normas, visando assim à garantia de um local mais
seguro aos envolvidos em toda sua conjuntura.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
O objetivo central da presente pesquisa foi analisar e
descrever a importância da aplicação e implantação da segurança do trabalho e
prevenção dos acidentes de trabalho em um canteiro de obras no município de
Vitória da Conquista – BA. E, para o alcance deste propósito, foi realizado um
estudo de caso, onde aplicou-se um checklist baseado na NR-18 para averiguar se
as normas encontram-se sendo cumpridas na referente localidade.
Como resultado, verificou-se que a obra em questão não
segue todas as requisições previstas, sendo elas: inexistência de sinalizações;
sanitário e vestiário improvisado; local para as refeições inadequado e
ausência de um profissional com especialização em segurança do trabalho. Todas
estas questões são de fácil correção, portanto, verifica-se que a falta de
instrução ainda é uma realidade na Construção Civil, principalmente no que
tange a segurança dos envolvidos.
Quanto à pergunta central da pesquisa, isto é, a
transferência de informações acerca dos métodos preventivos dos acidentes de
trabalho é capaz de proporcionar uma redução do número de ocorrências em um
canteiro de obras, chegou-se à conclusão que sim. De uma forma mais abrangente,
a existência de normas gerais e a capacitação são alternativas promissoras
quanto à prevenção de acidentes no local de trabalho, mas para que esta
proposta seja valorizada, a presença de fiscalizações é primordial, pois muito
se fala a respeito, mas pouco se coloca em prática.
De antemão, todos os objetivos elencados foram
alcançados, sem maiores dificuldades, já que a equipe do local esteve sempre
disponível na apresentação das situações locais, bem como para a prestação de
informações mais precisas. A única contrariedade encontrada foi a pouca
disponibilidade de publicações que abordassem o tema proposto, principalmente
quanto à presença de livros.
E, como este infortúnio ainda impera, esperasse que o
desenvolvimento desta pesquisa propicie um maior número de publicações a
respeito, principalmente por envolver um assunto de tamanha importância para o
âmbito da Construção Civil. Além disso, busca-se uma valorização quanto à
presença de profissionais especializados no assunto, que sejam capazes de gerar
mudanças significativas neste contexto, acarretando uma diminuição
significativa nos índices de acidentes ligados ao ambiente de trabalho,
especificamente em canteiros de obras.
Sugere-se a realização de uma pesquisa mais minuciosa
a respeito deste assunto, sob o ponto de vista dos profissionais, de modo que
seja possível saber se estes indivíduos sabem quais são as normas ou mesmo as
principais exigências envolvidas neste processo. A finalidade central é a
promoção de dados mais precisos a respeito da segurança no ambiente de trabalho
e de como este tema vem sendo ajuizado no presente momento.
Chega-se à conclusão de que a segurança no ambiente de
trabalho é um tema extremamente importante, principalmente no que tange a
Construção Civil, mas sabe-se que ainda é um processo em que pouco se comenta
ou se coloca em prática. Para que este quesito seja mais valorizado, a
existência de fiscalizações é altamente necessária, bem como a presença de
profissionais capacitados para tal. Uma alternativa seria o treinamento de
todos os envolvidos, de modo que estes possam saber quais as principais normas
e requisições existentes até então.
REFERÊNCIAS
ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO – AEAT.
Ministério da Fazenda, Brasilia: MF, 2016. Disponível em:
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/04/AEAT-2016.pdf. Acesso em: 18/08/2021.
AMORIM JUNIOR, Cléber Nilson Ferreira. Princípios
específicos do direito tutelar da saúde e segurança do
trabalhador. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, v.
16, n°. 30, 2011. Disponível em: http://www.magistradotrabalhista.com.br/2014/01/principios-especificos-do-direito.html.
Acesso em: 01/12/2021.
BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do Trabalho
& Gestão Ambiental. 4°. ed. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em:
https://www.grupogen.com.br/seguranca-do-trabalho-gestao-ambiental. Acesso
em: 01/12/2021.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR- 6 –
SESMT. Manuais de Legislação Atlas. 71ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2013.
Disponível em:
http://www.portoitajai.com.br/cipa/legislacao/arquivos/nr_06..pdf. Acesso em: 02/12/2021.
BRASIL, Ministério do Trabalho. Manual de
legislação, segurança e medicina do trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de
pesquisa. São Paulo, Atlas, 2002.
JUNIOR, Paula et al. Segurança e medicina do trabalho.
Revista Saberes da UNIJIPA. nº. 04. UNIJIPA. Ji-Paraná, 2016. Disponível em:
https://unijipa.edu.br/por-que-a-unijipa/revistasaberes/edicao-4/. Acesso em:
05/10/2021.
JÚNIOR, Jadir Ataíde D. Segurança Do Trabalho Em Obras
De Construção Civil:Uma Abordagem Na Cidade De Santa Rosa-RS. 2002. Disponível
em: https://unijipa.edu.br/wp-content/uploads/Revista%20Saberes/ed4/22.pdf.
Acesso em 10/05/2021.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.) Pesquisa social:
teoria, método e criatividade. 21°. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (MPS). Informe de
Previdência Social. Análise das Estatísticas de Acidentes do Trabalho na
Construção Civil. Nota técnica – Resultado do RGPS de junho/2014. v. 26, nº. 7,
Julho/2014. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/images/previdencia/2014/10/Reta_Offseta_Informea_julhoa_2014.pdf.
Acesso em: 20/10/2021.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Norma
Regulamentadora N° 7. 2020. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/norma-regulamentadora-n7-1.htm.
Acesso em 26/10/2021.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Norma
Regulamentadora N° 9. 2020. Disponível em:
http://acesso.mte.gov.br/data/files/FF80808148EC2E5E014961B76D3533A2/NR-09%20(atualizada%202014)%20II.pdf.
Acesso em 26/10/2021.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Norma
Regulamentadora N° 10. 2020. Disponível em:
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-10-nr-10.
Acesso em 26/10/2021.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Norma
Regulamentadora N° 12. 2020. Disponível em:
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm. Acesso em 26/10/2021.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Norma
Regulamentadora N° 18. 2020. Disponível em:
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm. Acesso em 26/10/2021.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Norma
Regulamentadora N° 24. 2020. Disponível em: http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr24.htm.
Acesso em 26/10/2021.
MOTERLE, Neodimar. A importância da segurança do
trabalho na construção civil: um estudo de caso em um canteiro de obras na
cidade de Pato Branco. Monografia (Programa de Pós-Graduação em Engenharia) –
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Pato Branco, 2014. Disponível em:
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/5688/1/PB_CEEST_V_2014_27.pdf.
Acesso em 10/05/2021.
NASCIMENTO, Ana Maria et al. A Importância do Uso de
Equipamentos de Proteção na Construção Civil. São Paulo, 2009. Disponível em:
https://docplayer.com.br/16072213-A-importancia-do-uso-de-equipamentos-de-protecao-na-construcao-civil.html.
Acesso em 10/05/2021.
OLIVEIRA, Pedro H. V. A Importância da Segurança do
Trabalho na Construção Civil. 2012. Disponível em:
http://prezi.com/bhnomfyabo6h/a-importancia-daseguranca-do-trabalho-na-construcao-civil/.
Acesso em: 10/05/2021.
POZZOBON, Cristina Eliza et al. Programa de Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: PCMAT. Condomínio Royal
Plaza Shopping Center Santa Maria. Santa Maria, 2016. Disponível em:
https://www.ambientec.com/programa-de-condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-na-industria-de-construcao-civil-e-obrigatorio-em-obras-com-mais-de-20-funcionarios/.
Acesso em: 12/05/2021.
ROCHA Carlos Alberto; SAURIN, Tarcisio Abreu; FORMOSO
Carlos Torres. Avaliação da aplicação da NR-18 em canteiro de obras, in: XX
Encontro Nacional de Engenharia de Produção, São Paulo, 2000. Disponível em:
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/arquivos/E0013_00.pdf. Acesso em:
01/10/2021.
SAAD, Eduardo Gabriel. CLT comentada. 48°. ed.
Atual. São Paulo: LTr, 2015. Disponível em:
http://www.federacaodosestivadores.org.br/painel/lateral/CLT%20Comentada.pdf.
Acesso em: 01/10/2021.
SANTOS, Zelãene dos. Segurança no Trabalho e Meio
Ambiente: NR-6 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC),
2014. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/21698089/nr-6-equipamentos-de-protecao-individual-epi-e-coletiva-epc.
Acesso em: 18/08/2021.
SAMPAIO, José Carlos de Arruda. PCMAT: Program a de
Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. São Paulo:
Pini, SINDUSCON/SP, 1998. Disponível em: http://bibcentral.ufpa.br/arquivos/120000/120100/19_120150.htm.
Acesso em: 06/10/2021.
SILVA, Andréa Paula Galvão da et al. Equipamento de
Proteção Individual (EPI) Utilizados na Construção Civil: Política de Uso, Exig
ências de Qualidade e Legislação. Revista Evangelista, Fortaleza, v. 4, n°.7,
p. 9-16, 2002. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/26516503_EQUIPAMENTO_DE_PROTECAO_INDIVIDUAL_EPI_UTILIZADOS_NA_CONSTRUCAO_CIVIL_POLITICA_DE_USO_EXIGENCIAS_DE_QUALIDADE_E_LEGISLACAO.
Acesso em: 06/10/2021.
Acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade
Independente do Nordeste – FAINOR.
Acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade
Independente do Nordeste – FAINOR.
Gostou do conteúdo? Conte para gente nos comentários e
não deixe de compartilhar nas redes sociais.
Siga o Blog e Deixe seu comentário e compartilhe este
artigo em suas redes sociais para que mais pessoas se informem sobre
o tema.